Este vídeo foi produzido na tentativa de mostrar resumidamente um pouco da história da Educação física, desde a antiguidade até os dias atuais no Brasil. Apresentado como parte do Trabalho sobre o Movimento Corporal.
História da Educação Física no mundo
origem da educação física remota a tempos do homem primitivo que precisava desenvolver capacidades corporais com a finalidade de ganhar seus desafios, porque era uma questão de vida ou morte. Só que tudo isso acontecia de maneira inconsciente, mas é neste período que podemos verificar os primeiros registros da força física humana sendo exercida.
O corpo humano adquiriu uma anatomia que nada mais é do que o resultado evolutivo de um refinamento realizado por nossos ancestrais que necessitavam correr, nadar, levantar, pular, entre outros exercícios para a sua sobrevivência. Estes princípios foram aperfeiçoados com base nas necessidades de ataque e defesa, mostrando que neste processo evolutivo a agilidade, destreza e a força eram qualidades que os tornavam privilegiados com relação a outros animais. O nosso polegar, por exemplo, possui este desenvolvimento para nos dar possibilidade para arremessamentos.
Historiadores desvendaram que no Oriente os humanos logo começaram a se tornar mais civilizados devido aos exercícios que tinham um sentido moral preparatório para a vida. Na Índia, a atividade física estava completamente unida com o ensino e a religião daquela sociedade. Algumas práticas na China conferiam a guerra de forma a aprimorar as qualidades físicas e motoras dos guerreiros.
O berço dos esportes, remota à sociedade grega antiga, em um momento onde a atividade física era muito importante e estava ligada a intelectualidade e a espiritualidade em forma de mitologia e de filosofia de vida, onde o corpo bem definido possuía bons olhares, tais como vitalidade, destreza, saúde e é claro, força. Foi nesta época em que os próprios gregos criaram os Jogos Olímpicos, onde os mesmos faziam homenagens aos seus deuses com a prática de competições.
A educação física no Brasil teve origem graças a uma grande miscigenação cultural, desde os índios que aqui já habitavam até os imigrantes que acrescentaram inúmeras fontes para que a atividade física fosse aprimorada de acordo com as necessidades de seu tempo. Mas a educação física como disciplina possui a sua origem por volta da metade do século XIX, sendo este o período do Brasil Império, onde existiam leis que incluíam a ginástica na grade de ensino dos estudantes. Porém, apenas na década de 1990 que a atividade física obtém um status mais amplo na sociedade, até se tornar o que conhecemos atualmente.
O corpo humano adquiriu uma anatomia que nada mais é do que o resultado evolutivo de um refinamento realizado por nossos ancestrais que necessitavam correr, nadar, levantar, pular, entre outros exercícios para a sua sobrevivência. Estes princípios foram aperfeiçoados com base nas necessidades de ataque e defesa, mostrando que neste processo evolutivo a agilidade, destreza e a força eram qualidades que os tornavam privilegiados com relação a outros animais. O nosso polegar, por exemplo, possui este desenvolvimento para nos dar possibilidade para arremessamentos.
Historiadores desvendaram que no Oriente os humanos logo começaram a se tornar mais civilizados devido aos exercícios que tinham um sentido moral preparatório para a vida. Na Índia, a atividade física estava completamente unida com o ensino e a religião daquela sociedade. Algumas práticas na China conferiam a guerra de forma a aprimorar as qualidades físicas e motoras dos guerreiros.
O berço dos esportes, remota à sociedade grega antiga, em um momento onde a atividade física era muito importante e estava ligada a intelectualidade e a espiritualidade em forma de mitologia e de filosofia de vida, onde o corpo bem definido possuía bons olhares, tais como vitalidade, destreza, saúde e é claro, força. Foi nesta época em que os próprios gregos criaram os Jogos Olímpicos, onde os mesmos faziam homenagens aos seus deuses com a prática de competições.
A educação física no Brasil teve origem graças a uma grande miscigenação cultural, desde os índios que aqui já habitavam até os imigrantes que acrescentaram inúmeras fontes para que a atividade física fosse aprimorada de acordo com as necessidades de seu tempo. Mas a educação física como disciplina possui a sua origem por volta da metade do século XIX, sendo este o período do Brasil Império, onde existiam leis que incluíam a ginástica na grade de ensino dos estudantes. Porém, apenas na década de 1990 que a atividade física obtém um status mais amplo na sociedade, até se tornar o que conhecemos atualmente.
Vamos apresentar alguns videos do curso de pedagogia UAB/UNEMAT com a profesora Aline espero que goste.
Abordagem Desenvolvimentista
FUNDAMENTOS DA ABORDAGEM
- É baseada na área do comportamento motor, composto pelas subáreas: aprendizagem motora, desenvolvimento motor e controle motor.
- A abordagem desenvolvimentista é dirigida especificamente para a faixa etária até os 14 anos.
- Nesta abordagem, o movimento é considerado como o principal meio e fim da Educação Física, propugnando a especificidade do seu objeto.
- O comportamento motor é desenvolvido pelo aumento da interação e a complexidade dos movimentos.
- Ordenação das sequências de aprendizagem (do mais simples para o mais complexo).
- Experiências de movimentos adequados ao nível de crescimento e desenvolvimento dos alunos.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
FASES DO DESENVOLVIMENTO MOTOR
DISCUTINDO A ABORDAGEM DESENVOLVIMENTISTA
Darido (2003) considera que uma das limitações desta abordagem refere-se à pouca importância, ou a uma limitada discussão, sobre a influência do contexto sociocultural que está por trás da aquisição das habilidades motoras.
Na abordagem desenvolvimentista, a educação física trataria do estudo e da aplicação do movimento, as aulas deveriam propiciar condições para a aprendizagem de movimentos dentro de padrões sugeridos pelas fases determinadas biologicamente (DAOLIO, 2010).
PRINCIPAIS INFLUÊNCIAS DA ABORDAGEM DESENVOLVIMENTISTA
No Brasil, principalmente nos trabalhos de Tani (1987), Tani et alii (1988) e Manoel (1994).
A obra mais representativa desta abordagem é Educação Física Escolar: Fundamentos de uma Abordagem Desenvolvimentista (Tani et alii, 1988).
Analisando as concepções de João Batista Freire busco num primeiro momento apresentar um resumo da abordagem construtivista defendida por esse autor. Utilizando para esse fim de algumas obras dele: Educação de corpo inteiro: teoria e prática da educação física (1997), educação como prática corporal (2003) e do Jocimar Daolio (2003): educação física e o conceito de cultura.
Em seguida apresento de forma direta ou indireta questões como – desenvolvimento, aprendizagem, movimento e concepção de homem- para que seja possível fazer relações entre essas obras e de outros autores em relação a abordagem construtivista. Percebe-se que Freire busca além do desenvolvimento cognitivo, uma formação mais ampla, que valorize o coletivo ao invés do individual, utilizando para isso do movimento para uma educação que ele chama de "educação de corpo inteiro", onde corpo e mente são considerados como um todo indissociável. Assim, busca-se formar um homem que seja capaz de solucionar problemas a partir da sua tomada de decisão individual, mas que ao mesmo tempo possa beneficiar todos.
Por fim, viso fazer relações entre o que foi estudado até aqui com a minha prática pedagógica, mostrando limites e possibilidades para utilização da abordagem construtivista no ambiente escolar. Assim, sempre que necessário retomarei alguns conceitos, termos e expressões utilizados ao longo do desenvolvimento desse trabalho.
Abordagem Construtivista
A abordagem construtivista, defendida por João Batista Freire, busca uma educação de corpo inteiro - onde corpo e mente são indissociáveis- utilizando para esse fim a valorização do desenvolvimento cognitivo. Esse autor acredita que a educação física deve estimular o desenvolvimento das habilidades motoras das crianças e adolescentes a partir de jogos e brinquedos.
Se for possível promover o desenvolvimento de uma habilidade motora, como girar, por exemplo, dentro de um contexto de brinquedo, porque fazê-lo isoladamente? Não vemos razões para "treinar" fora do jogo aquilo que pode ser realizado significativamente dentro dele (Freire, 1997, p. 134).
Baseado nos trabalhos de Piaget, que divide o desenvolvimento em faixas etárias, Freire acredita que todos os seres humanos constroem o conhecimento a partir da sua relação com o meio, assim suas experiências vão acumulando ao longo dos anos, sendo que ninguém nasce com o dom para determinada atividade, mas sim tem mais ou menos facilidades a partir das suas vivências anteriores.
Mesmo que as faixas etárias sejam consideradas balizadoras do programa de educação física, o currículo da disciplina deve apresentar conteúdos abertos o bastante para que os alunos, em sua prática, tenham espaço para manifestações individuais, em seu próprio ritmo de desenvolvimento. (FREIRE, p. 14, 2003)
Para Freire a educação física na escola deve auxiliar o desenvolvimento individual com o intuito de formar pessoas mais críticas, autônomas e criativas, utilizando dos jogos e brinquedos como facilitadores ou estimuladores do desenvolvimento dessas características nos alunos.
A proposta do autor, a exemplo da abordagem desenvolvimentista, toma a escola e a educação física principalmente como desencadeadoras ou auxiliares do desenvolvimento individual, a fim de formar pessoas mais completas, com mais criatividade, que tenham mais possibilidades de exercer a autonomia. (DAOLIO, p. 25, 2004)
Nessa abordagem o jogo tem papel relevante para o desenvolvimento das habilidades motoras dos alunos, sendo a princípio considerado com uma visão mais simbólica, enfatizando a questão psicológica inerente a cada sujeito. Sendo que pode ser utilizado como social, onde cada um utiliza das suas habilidades em conjunto para o melhor de todos. Nota-se que com a evolução do jogo vem a criação de regras para melhor organização e entendimento do jogo como um todo.
De acordo com Piaget (1998, p. 159): "É pelo fato do jogo ser um meio tao poderoso para aprendizagem da criança que todo lugar onde se consegue transformar em jogo a iniciação a leitura, ao cálculo, ou a ortografia, observa-se que as crianças apaixonam por essas ocupações comumente ditas como macantes". No entanto, para Freire (2003) a educação física não deve ser vista apenas como disciplina complementar, devendo ser valorizada na dinâmica curricular da escola:
O autor insiste que a educação física deve ser valorizada na dinâmica escolar, não devendo servir como complementar ou auxiliar às outras disciplinas. Segundo ele, o objetivo da área seria promover atividades que pudessem auxiliar ou facilitar o desenvolvimento da criança, tanto em sua vida escolar, como em toda sua vida após a escola. (DAOLIO, 2004, p. 24)
A partir da afirmação de que os alunos são sujeitos que devem construir seus conhecimentos a partir da experimentação e que esses saberes são elaborados e recriados pela sociedade e não apenas por uma pessoa isolada, entendemos porque Freire valoriza o trabalho em grupo e a utilização dos jogos e brinquedos como facilitadores do desenvolvimento das crianças e jovens: "O objetivo de qualquer disciplina deve ser o de ensinar a viver em sociedade, pensando como sociedade, agindo como sociedade... as oportunidades de agir individualmente não devem deixar de existir e de ser valorizadas, mas não podem ser exclusivas." (FREIRE & SCAGLIA, p. 32, 2003).
O jogo desenvolvido nas aulas de Educação Física não é o mesmo vivenciado pela criança em outro ambiente, pois na escola sua utilização tem objetivos pedagógicos. Daolio (2004, p. 24) diz: "... o jogo desenvolvido nas aulas de educação física deve ser diferente do jogo que a criança pratica fora da escola, uma vez que o primeiro deve atender a determinados objetivos, como desenvolvimento de determinadas habilidades motoras...".
Para o autor os alunos serão capazes de criar, inovar e socializar seus conhecimentos adquiridos ao longo do seu desenvolvimento caso consiga ter um maior grau de autonomia para esse fim: "Só se pode aprender autonomia tendo atitudes autônomas. Compete a escola e ao professor, portanto criar condições ambientais favoráveis para que o aluno possa agir com autonomia". (FREIRE & SCAGLIA, p. 116, 2003)
Podemos afirmar que o construtivismo defende que as pessoas nascem com um conjunto de predisposições neuro-fisiológicas para o pensar e que precisam ser desenvolvidas no desenvolvimento da sua vida, onde considera o corpo e a mente indissociável. "Por isso as estruturas mentais devem ser concebidas como o produto de uma construção realizada pela criança em prolongadas etapas de reflexão individual e de interação com o outro." (ARIAS & YERA, 1996, p. 12).
De acordo com a abordagem construtivista o conhecimento será construído a partir da interação do sujeito com o mundo, sendo o aluno o destaque dentro desse processo, pois é através do movimento do seu corpo indissociável que os conteúdos da Educação física podem ser trabalhados, recriados e apreendidos. Dentro dessa lógica percebemos que o autor valoriza a autonomia e criatividade para os alunos enquanto sujeito das suas práticas corporais.
Desenvolvimento, aprendizagem, movimento e concepção de homem
Após um breve resumo sobre o construtivismo, buscaremos estudar e compreender um pouco mais sobre o desenvolvimento aprendizagem, movimento e concepção de homem presente nessa abordagem para que em seguida seja possível fazer relações com minha prática pedagógica, mostrando os limites e possibilidades para sua utilização no ambiente escolar.
Para Freire a educação física deve considerar o conhecimento que a criança já possui, sendo esta disciplina escolar uma forma de estimular o desenvolvimento cognitivo a partir principalmente de jogos e brincadeiras.
A preocupação com a aprendizagem de conhecimentos, especialmente aqueles lógico matemáticos, prepara um caminho para Educação Física como um meio para atingir o desenvolvimento cognitivo. Neste sentido, o movimento poderia ser um instrumento para facilitar a aprendizagem de conteúdos diretamente ligados ao aspecto cognitivo, como a aprendizagem da leitura, da escrita, e da matemática, etc. (DARIDO, 2000, p.2)
Na educação física, o desenvolvimento do individuo num meio ambiente humano, cultural e social, deve ser o objetivo principal independentemente de qualquer divisão que se tente fazer de seu conteúdo em áreas de conhecimento. Para o construtivismo é de suma importância o desenvolvimento cognitivo das crianças, no entanto, para eles a educação física deverá buscar um desenvolvimento maior que leve a autonomia (FREIRE &SCAGLIA 2003, p. 31).
Para Freire & Scaglia (2003) a criança precisa aprender na escola e nas aulas de educação física especificamente a ser cidadã com a valorização do coletivo em detrimento do individual:
As técnicas ensinadas nas disciplinas de educação física, de português, de matemática ou química podem ser muito importantes, mas não passam de acessórios para uma formação maior, para a autonomia. A formação do cidadão de um novo mundo só pode ser conseguida com a educação para a atitude autônoma; afinal quando estivermos maduros, seremos o somatório das atitudes tomadas ao longo de nossas vidas. (FREIRE &SCAGLIA 2003, p. 32)
Em relação à aprendizagem para que ela seja significativa os autores consideram que o estudo e compreensão das faixas etárias sejam importantes para a construção de um currículo que irá nortear a apreensão do conteúdo por parte dos alunos: Mesmo que as faixas etárias sejam balizadoras do programa de educação física, o currículo da disciplina deve apresentar conteúdos abertos o bastante para que os alunos, em sua prática, tenham espaço para manifestações individuais, sem seu próprio ritmo de desenvolvimento."(FREIRE & SCAGLIA, 2003, p.14)
Apesar de desenvolvimento e aprendizagem estarem intimamente ligados, Piaget (1974) afirma que não se deve confundi-las, pois:
(...) a aprendizagem não se confunde necessariamente com o desenvolvimento, e que, mesmo da hipótese segundo a qual as estruturas lógicas não resultam da maturação de mecanismos inatos somente, o problema subsiste em estabelecer se sua formação se reduz a uma aprendizagem propriamente dita ou depende de processos de significação ultrapassando o quadro do que designamos habitualmente sob este nome. (PIAGET, 1974, p. 34)
No campo da educação física escolar o construtivismo considera a aprendizagem como um processo de construção dos conhecimentos, onde a criança e o professor dialogam, entretanto o centro dessa relação será sempre ela. Assim o professor não é a figura mais importante no processo de ensino- aprendizagem, mas sim a criança. A pedagogia deve concentrar sua atenção não apenas no processo de ensino, porém também na forma como as crianças aprendem, constroem e reconstroem seus conhecimentos e experiências.
Ao se falar de movimento, Freire (1997) faz uma diferenciação entre educação do movimento e educação pelo movimento, onde a primeira seria uma espécie de aquisição de movimentos de forma sistematizada, coordenada e impostas pelo meio, seja dentro ou fora da escola.
Sem dúvida o homem pode apresentar movimentos cada vez mais bem coordenados e isso é passível de conseguir tanto pelas necessidades impostas pelo meio como por uma educação sistemática, orientada na escola. Dessa maneira. Seria perfeitamente cabível enfocar-se a educação em termos de habilidades motoras a serem desenvolvidas. (FREIRE, 1997, p.84)
Já a educação pelo movimento estaria relacionada ao aumento do grau de complexidade dele, partindo dos básicos até chegarem aos mais complexos, alcançando competências além das motoras como sociais e intelectuais. "Ora, todos os movimentos produzidos num certo nível podem e devem servir de base para outras aquisições mais elaboradas. Assim, através dos movimentos aprendidos, se atingiriam outros, mais difíceis, ou aquisições não motoras, como por exemplo, as intelectuais e as sociais." (FREIRE, 1997, p.84)
Após fazer a diferencia entre educação do e pelo movimento, Freire (1997) diz que a educação física deve lutar por uma educação indissociável entre corpo e mente utilizando para alcançar tal fim o movimento. "No meu entender, a Educação Física não é apenas educação do ou pelo movimento: é educação de corpo inteiro, entendendo-se, por isso, um corpo em relação com os outros corpos e objetos no espaço" (FREIRE, 1997, p.84).
Considerações Finais: Possíveis relações entre o construtivismo e minha prática pedagógica
Freire busca com sua proposta de "educação de corpo inteiro" romper com o modelo tradicional de educação - que está voltado para o controle do corpo e das suas manifestações como criatividade e reflexão – no entanto, percebem-se muitas limitações na sua proposta de educação física, pois se acredita que o movimento educacional deve partir do próprio aluno e não de questões socioculturais.
Ainda que o autor se refira à educação para a democracia, percebe-se que o movimento dessa educação é de dentro para fora, partindo do individuo e não da cultura ou da sociedade. Essa visão perpassa todo o livro, alcançando a questão dos conteúdos a serem tratados nas aulas. O jogo e brinquedos, tão lembrados como parte da cultura infantil, de onde o programa deve necessariamente partir, são tomados como facilitadores ou estimuladores do desenvolvimento e não como elementos do patrimônio cultural humano que deve ser garantido a todos os alunos. São meios e não fins do processo educacional empreendido pela educação física. (DAOLIO, p. 25, 2004)
Entendo que apesar de todas as limitações da abordagem construtivista, ela ainda consegue um grande avanço no campo educacional ao tentar romper com os padrões de movimentos típicos da tendência desenvolvimentista, ao valorizar o aluno enquanto sujeito participativo na dinâmica curricular e ao levar em consideração que o conhecimento é construído a partir da relação do ser humano com o mundo. A proposta de ruptura com o modelo tradicional foi desafiadora e corajosa, todavia a sua idealização não foi completa e suficiente para atender a realidade, principalmente por não aprofundar nas questões culturais e sociais como algo complexo e dinâmico que esta sempre se renovando e ressiginifcando no mundo em que vivemos.
Em relação a minha prática pedagógica acredito que a busca pela maior participação dos alunos na construção do planejamento e desenvolvimento das aulas, utilização dos jogos como conteúdo da cultura corporal e a valorização da educação física como disciplina importante no currículo da escola, seriam pontos que iria utilizar da abordagem construtivista. Entretanto, seria importante refletir e estudar de forma mais aprofundada suas obras e suas propostas, mesmo assim não podemos desconsiderar seu trabalho como um ponta pé inicial, para análise e reflexão das outras abordagens que já estavam fundamentas ou que iriam ser organizadas.
Considero o termo bastante utilizado por Freire: "Educação de Corpo Inteiro" como essencial para compreensão e aplicação da sua abordagem nas aulas de educação física, pois o que se vê nesse ambiente é a busca pelo adestramento do corpo, para receber ordens e se adequar ao sistema. Assim, caso conseguisse nas minhas aulas uma educação que realmente valorizasse o corpo e a mente como partes indissociáveis, estaria avançando em busca de autonomia e uma possível emancipação dos meus educandos, mesmo sabendo ser muito astucioso alcançar essas competências em aulas que não estão sendo contextualizadas com outras disciplinas na nossa realidade da escola e muito menos rompendo com o sistema capitalista vigente.
Aula 3
Estudantes do CECR - Colégio Estadual Álvaro Augusto da Silva (Classe V) nas aulas de Educação Física fundamentada na abordagem Crítico Superadora
A prática pedagógica de qualquer disciplina desenvolvida na escola está fundamentada em alguma teoria, corrente, tendência, concepção ou abordagem. O ensino da Educação Física orientado pela Profa. Joselúcia Barbosa Ambrozi, no Colégio Estadual Álvaro Augusto da Silva (Classe V), para os alunos e alunas do ensino fundamental do turno vespertino, está fundamentado na abordagem Crítico-Superadora.
A abordagem crítico-superadora faz a crítica da Educação Física a partir de sua contextualização na sociedade capitalista, baseia-se nos pressupostos da pedagogia histórico-crítica e estipula como objeto de estudo da Educação Física, a Cultura Corporal. Para esta abordagem, a Educação Física é entendida como sendo uma área do conhecimento que trata pedagogicamente na escola, dos temas da Cultura Corporal. A Cultura Corporal representa as formas culturais do "movimentar-se humano" historicamente produzido pela humanidade.
Assim, no âmbito escolar, estas formas culturais do "movimentar-se humano" são representadas e sistematizadas através do ensino, pela Educação Física, dos seguintes conteúdos ou temas da cultura corporal: Jogo, Luta, Esporte, Ginástica, Dança, Capoeira.
Nesta III unidade, cada série do Colégio Álvaro Augusto da Silva estudou e praticou os seguintes temas da cultura corporal, a saber:
6ª/7º ANO - JOGOS
7ª/8º ANO - GINÁSTICA
8ª/9º Ano – LUTA
Estudantes do CECR - Colégio Estadual Álvaro Augusto da Silva (Classe V) nas aulas de Educação Física fundamentada na abordagem Crítico Superadora
A prática pedagógica de qualquer disciplina desenvolvida na escola está fundamentada em alguma teoria, corrente, tendência, concepção ou abordagem. O ensino da Educação Física orientado pela Profa. Joselúcia Barbosa Ambrozi, no Colégio Estadual Álvaro Augusto da Silva (Classe V), para os alunos e alunas do ensino fundamental do turno vespertino, está fundamentado na abordagem Crítico-Superadora.
A abordagem crítico-superadora faz a crítica da Educação Física a partir de sua contextualização na sociedade capitalista, baseia-se nos pressupostos da pedagogia histórico-crítica e estipula como objeto de estudo da Educação Física, a Cultura Corporal. Para esta abordagem, a Educação Física é entendida como sendo uma área do conhecimento que trata pedagogicamente na escola, dos temas da Cultura Corporal. A Cultura Corporal representa as formas culturais do "movimentar-se humano" historicamente produzido pela humanidade.
Assim, no âmbito escolar, estas formas culturais do "movimentar-se humano" são representadas e sistematizadas através do ensino, pela Educação Física, dos seguintes conteúdos ou temas da cultura corporal: Jogo, Luta, Esporte, Ginástica, Dança, Capoeira.
Nesta III unidade, cada série do Colégio Álvaro Augusto da Silva estudou e praticou os seguintes temas da cultura corporal, a saber:
6ª/7º ANO - JOGOS
7ª/8º ANO - GINÁSTICA
8ª/9º Ano – LUTA
Estudantes do CECR - Colégio Estadual Álvaro Augusto da Silva (Classe V) nas aulas de Educação Física fundamentada na abordagem Crítico Superadora
A prática pedagógica de qualquer disciplina desenvolvida na escola está fundamentada em alguma teoria, corrente, tendência, concepção ou abordagem. O ensino da Educação Física orientado pela Profa. Joselúcia Barbosa Ambrozi, no Colégio Estadual Álvaro Augusto da Silva (Classe V), para os alunos e alunas do ensino fundamental do turno vespertino, está fundamentado na abordagem Crítico-Superadora.
A abordagem crítico-superadora faz a crítica da Educação Física a partir de sua contextualização na sociedade capitalista, baseia-se nos pressupostos da pedagogia histórico-crítica e estipula como objeto de estudo da Educação Física, a Cultura Corporal. Para esta abordagem, a Educação Física é entendida como sendo uma área do conhecimento que trata pedagogicamente na escola, dos temas da Cultura Corporal. A Cultura Corporal representa as formas culturais do "movimentar-se humano" historicamente produzido pela humanidade.
Assim, no âmbito escolar, estas formas culturais do "movimentar-se humano" são representadas e sistematizadas através do ensino, pela Educação Física, dos seguintes conteúdos ou temas da cultura corporal: Jogo, Luta, Esporte, Ginástica, Dança, Capoeira.
Nesta III unidade, cada série do Colégio Álvaro Augusto da Silva estudou e praticou os seguintes temas da cultura corporal, a saber:
6ª/7º ANO - JOGOS
7ª/8º ANO - GINÁSTICA
8ª/9º Ano – LUTA
Estudantes do CECR - Colégio Estadual Álvaro Augusto da Silva (Classe V) nas aulas de Educação Física fundamentada na abordagem Crítico Superadora
A prática pedagógica de qualquer disciplina desenvolvida na escola está fundamentada em alguma teoria, corrente, tendência, concepção ou abordagem. O ensino da Educação Física orientado pela Profa. Joselúcia Barbosa Ambrozi, no Colégio Estadual Álvaro Augusto da Silva (Classe V), para os alunos e alunas do ensino fundamental do turno vespertino, está fundamentado na abordagem Crítico-Superadora.
A abordagem crítico-superadora faz a crítica da Educação Física a partir de sua contextualização na sociedade capitalista, baseia-se nos pressupostos da pedagogia histórico-crítica e estipula como objeto de estudo da Educação Física, a Cultura Corporal. Para esta abordagem, a Educação Física é entendida como sendo uma área do conhecimento que trata pedagogicamente na escola, dos temas da Cultura Corporal. A Cultura Corporal representa as formas culturais do "movimentar-se humano" historicamente produzido pela humanidade.
Assim, no âmbito escolar, estas formas culturais do "movimentar-se humano" são representadas e sistematizadas através do ensino, pela Educação Física, dos seguintes conteúdos ou temas da cultura corporal: Jogo, Luta, Esporte, Ginástica, Dança, Capoeira.
Nesta III unidade, cada série do Colégio Álvaro Augusto da Silva estudou e praticou os seguintes temas da cultura corporal, a saber:
6ª/7º ANO - JOGOS
7ª/8º ANO - GINÁSTICA
8ª/9º Ano – LUTA
| Jogos Cooperativos e Educação Física escolar: possibilidades e desafios | |||
Graduado em Educação Física (UFRRJ). Especialista em EF Escolar (UFF) e Psicopedagogia (UCAM). (Brasil) | Marcos Miranda Correia mmarcosuff@bol.com.br | ||
Resumo Os Jogos Cooperativos têm sido considerados uma importante proposta para Educação Física escolar. Embora carecendo de aprofundamento nos aspectos filosóficos, sociológicos, e pedagógicos, é considerada adequada para valorizar a cooperação nas aulas de Educação Física. O objetivo é relatar a experiência de cinco anos, como docente e pesquisador interessado nos Jogos Cooperativos, fazendo uma revisão da literatura disponível, apontando possibilidades e desafios para novos estudos e o trabalho na Educação Física escolar. Unitermos: Jogos Cooperativos. Educação Física escolar. | |||
| http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos Aires - Año 12 - N° 107 - Abril de 2007 | |||
1 / 1IntroduçãoOs avanços teóricos e acadêmicos na busca por propostas inclusivas e cooperativas na Educação Física (EF) são evidentes, todavia não podemos deixar de registrar que ainda persiste uma forte influência do mito da competição e do processo de esportivização na EF escolar (Correia, 2006a).Nesse contexto e em busca de superar a visão excessivamente esportivizada da EF e a exacerbação da competição, os Jogos Cooperativos (JC) são apresentados como uma nova e importante proposta para o cotidiano da EF escolar. Embora ainda seja considerada uma proposta carente de estudos e de aprofundamento em alguns aspectos filosóficos, sociológicos e pedagógicos, apresenta-se como bastante adequada aos propósitos de uma EF escolar não competitiva (Correia, 2006b; Darido, 2001).O objetivo desse artigo é relatar o trabalho realizado nos últimos cinco anos, como docente e pesquisador dos JC. Apresentamos um breve histórico da proposta dos JC desenvolvida por Terry Orlick (1989) e identificamos outras formas de abordagem elaboradas a partir desse autor. Também apontamos algumas questões, possibilidades e desafios para os interessados em novos estudos sobre o mesmo. Esperamos, além disso, contribuir para superar uma certa dificuldade, apontada por alguns professores e por Corella (2006): a dificuldade para adquirir a literatura produzida sobre JC.Para isso, faremos uma revisão da literatura produzida e disponível em nossa pesquisa, levando em consideração a nossa experiência como docente em cursos e oficinas de capacitação e no ensino fundamental do Rio de Janeiro.Esse artigo permitiu como conclusão afirmar a relevância e a importância de estudos sobre JC e apontar algumas questões, limitações, desafios e possibilidades de novos trabalhos com os JC.
Educação Física escolar, esportivização, competição e Jogos CooperativosA EF escolar é historicamente influenciada pelo esporte de rendimento, além de facilmente incorporar a competição como elemento fundamental de sua existência. Lovisolo (2001) confirma isso, da seguinte forma: "considero que a competição que se expressa em ganhar e perder é a alma do esporte" (p.108) e"creio, portanto, que se há atividade esportiva na escola, algum grau de competição estará presente"(p.109).Essa visão (compartilhada por muitos professores) demonstra o quanto ainda encontra-se polêmico o ideal de uma EF escolar que supere a predominância das concepções competitivista e esportivista. Sob essa perspectiva, as aulas são orientadas pela adaptação do esporte de rendimento às condições estruturais da escola, criando o processo de esportivização das atividades e reforçando o "mito da competição" (Correia, 2006a). Mito que acaba perpetuando uma concepção equivocada de que o aluno precisa aprender a competir para sobreviver às adversidades sociais, políticas e econômicas da vida lutando contra seus pares.Por isso, entendemos a importância e a relevância de estudarmos e refletirmos sobre a proposta dos JC como possibilidade de intervenção teórica e prática nesse contexto polêmico. Para Bertrand (2001), a educação do futuro exigirá das crianças e jovens de hoje a formação de valores diferentes da competição, da segregação e do racismo A EF escolar e os JC podem devem assumir tal desafio (Correia, 2006a).
A principal referência em Jogos CooperativosAo falarmos sobre Jogos Cooperativos, Terry Orlick torna-se a principal referência em estudos e trabalhos sobre esse tema.Para esse importante pesquisador, os JC não são manifestações culturais recentes, nem tampouco uma invenção moderna. A essência dos JC "começou há milhares de anos, quando membros das comunidades tribais se uniam para celebrar a vida" (Orlick, apud Brotto, 2002, p. 47). São jogos baseados em atividades com mais oportunidades de diversão e que procuram evitar as violações físicas e psicológicas.
Diversificando a proposta dos Jogos CooperativosPartindo do trabalho de Terry Orlick, surgem novos trabalhos sobre JC que permitem identificar muitas possibilidades para a abordagem dos mesmos no contexto escolar.Uma delas é a perspectiva política trazida por Brown (1995), que encontra uma forte relação do jogo cooperativo ou competitivo com as questões políticas das classes socialmente desfavorecidas. Para ele,"uma de nossas tarefas é educar para não aceitar passivamente a injustiça [...] como educadores temos que transmitir outros valores. Podemos oferecer a alternativa da solidariedade e do senso crítico diante do egoísmo e da resignação" (p. 31). Com essa perspectiva os JC ganham uma visão e um papel transformador, aproximando-se das abordagens crítico-emancipadoras da EF escolar. Destaca a importância dos JC porque libertam da competição, pois o interesse se volta para a participação, eliminando a pressão de ganhar ou perder produzida pela competição; libertam da eliminação, pois procura incluir e integrar todos, evitar a eliminação dos mais fracos, mais lentos, menos habilidosos etc.; libertam para criar, pois criar significa construir, exigindo colaboração; permitindo a flexibilização das regras e mudando a rigidez das mesmas facilita-se a participação e a criação; libertam da agressão física, pois buscam evitar condutas de agressão, implícita ou explícita, em alguns jogos.Oliveras (1998) apresenta os JC destacando as mesmas características que Brown (1995), porém tenta estabelecer uma relação desses jogos com a natureza. Ao relacionar os JC com a natureza, abre espaço para integrá-los com a temática do meio ambiente e da ecologia em projetos que venham a ser desenvolvidos na escola.Carlson (1999) vê nos JC um caminho para melhorar a saúde. Ao participar de jogos, as crianças se beneficiam física e psicologicamente das atividades, contribuindo para preservar sua saúde. Nesse sentido, os JC são introduzidos como uma forma de intervenção, sob uma abordagem multifatorial e holística, que envolve diversos aspectos relacionados com a saúde individual, tais como: as emoções, a aprendizagem, o relacionamento pessoal; a auto-estima, a necessidade de conhecimento e as condutas comportamentais. Essa nova abordagem, relacionando JC e saúde, vai ao encontro da perspectiva multifatorial da promoção da saúde defendida por Farinatti e Ferreira (2006) para a EF Escolar.Calado (2001) está incluindo os JC em uma nova concepção, a "Educação Física para a Paz", que surge de uma inter-relação das características específicas da área com os princípios filosóficos de um projeto maior chamado "Educação para a Paz". Callado propõe "potencializar a prática de jogos cooperativos" (Callado, 2001, p.3), pois considera que a cooperação se aprende cooperando. Eis um grande desafio, não só para a EF escolar, mas para a Educação como um todo.Salvador e Trotte (2001) elegeram os JC como atividade para proporcionar aos alunos a oportunidade de vivenciarem e experimentarem a possibilidade de algumas mudanças comportamentais em relação ao contexto e à realidade em que viviam. Encontraram nos JC uma forma de discutir, nas aulas de EF as formas de relações de poder reproduzidas nas regras, na convivência e no jogar.Procurando fazer uma interface dos JC com a Pedagogia do Esporte, Brotto (2002) propõe uma mudança para tornar o esporte menos competitivo e excludente, ou seja, "caracterizando-os como um exercício de convivência fundamental para o desenvolvimento pessoal e para a transformação." (p. 3). Descreve também as características de uma "Ética Cooperativa: con-tato, respeito mútuo, confiança, liberdade, re-creação, diálogo, paz-ciência, entusiasmo e continuidade" (p. 40). A proposição do autor é fazer dos JC uma pedagogia para o esporte e para a vida. Com essa forma de abordar o esporte, encontra-se a possibilidade de trabalhar um conteúdo de forte apelo de alunos e professores, porém diminuindo a exacerbação do mito da competição. Em nosso entendimento, essa concepção estimula uma boa polêmica e um grande desafio para novos estudos: como desenvolver a cooperação entre duas equipes ou dois adversários, se somos obrigados a admitir, como Lovisolo (2001) que a competição é inseparável do esporte?Existem aqueles que defendem a cooperação intra-time (Devide, 2003), porém quando assistimos a uma partida de vôlei ou futebol não observamos as equipes criando estratégias para cooperarem com a vitória dos seus adversários. Por outro lado, Korsakas e De Rose Jr. (2002) ressaltam a necessidade de refletirmos os atributos filosóficos e pedagógicos do esporte enquanto patrimônio cultural da humanidade e pratica educativa, uma vez que o mesmo está susceptível às transformações históricas e sociais. Vemos com isso que a resposta a essa questão não será simples e envolverá discussões éticas, filosóficas, políticas e pedagógicas que extrapolam as delimitações desse artigo.
Pesquisando e discutindo os Jogos CooperativosAinda em pouca quantidade e, em alguns casos, com pouco aprofundamento, encontramos trabalhos de pesquisa publicados em dissertações, periódicos e anais de encontros que revelam um interesse e uma necessidade de estudos sobre os JC.Uma das poucas dissertações é a de Cortez (1999). A autora identificou, em um grupo de alunos da 3a série do ensino fundamental, mudanças ocorridas no nível de satisfação, alegria, auto-estima, integração e competição a partir da introdução de um programa de JC. Observou e analisou as seguintes categorias de comportamentos e atitudes durante o trabalho com JC: "ação aleatória; interação social; papel do desafio no 'fluir'; pensamento reflexivo e solução de problemas e cooperação" (p. 101). De uma forma geral, suas observações e análises demonstraram haver alegria e satisfação durante a maior parte da experiência, além de muita vontade e empenho dos alunos para solucionarem imprevistos e dificuldades na execução das atividades cooperativas. Os JC exigem dos alunos um novo comportamento e uma nova forma de jogar que melhoram a interação social, pois os mesmos são levados a perceber a possibilidade de haver divertimento sem a competição que estão acostumados.Aguiar (2003), ao estabelecer um diálogo entre a Pedagogia de Célestin Freinet e os JC na perspectiva estabelecida por Guillermo Brown, encontra possibilidades para uma prática educativa interdisciplinar e que pode ser uma ferramenta para a vivência e a criação de um novo cidadão e de uma nova sociedade.Em um estudo com graduandos em EF, Abrão (2003) verifica que a vivência e aprendizagem de JC possibilitam aos futuros professores uma melhor percepção e cuidado com as práticas excludentes e discriminatórias. Através de uma formação acadêmica de qualidade, podemos levar às escolas novos conceitos, valores e concepções humanas, os quais possam estimular a convivência pacífica e o equilíbrio pessoal. Conclui que os JC são importantes para a construção dessa relação pedagógica e que os mesmos devem ser incluídos na formação dos novos professores de EF.Correia (2006b) relata uma experiência com alunos do ensino fundamental, em uma escola pública da rede estadual do Rio de Janeiro, onde foi pesquisador e docente. Mostra que nem sempre as atividades com JC são prontamente aceitas, mas admite que despertam questões sociais quando "confrontados" com a realidade da cultura competitiva trazida pelos alunos. Esses conflitos são vistos como oportunidades para questionar com os alunos o paradigma da competição e pensar com eles a perspectiva da cooperação em suas relações cotidianas. Encontra nos JC uma proposta coerente com as perspectivas de mudança ou de superação do "mito da competição" (Correia, 2006b, p. 150) que a EF escolar vem buscando.Embora o trabalho de Santo, Silva e Barbosa (2005) não aprofundem a questão filosófica importante, levantada por eles mesmos, sobre os JC, o relatamos, porque caminha em um sentido contrário às críticas sobre a visão esportiva e competitiva dos últimos anos. Baseados em suas "reflexões nietzscheanas" (p. 240), os autores criticam os JC, porque "aspiram um certo coletivismo muito nocivo do ponto de vista pedagógico" (p. 239). As críticas desses autores precisam ser vistas cuidadosamente, uma vez que os mesmos se apropriam de conceitos de um filósofo com pensamento bastante complexo, mas sem dar o devido aprofundamento ás questões levantadas. Além do mais, Brown (1995) e Correia (2006a e 2006b) ressaltam o cuidado para que os JC não sejam vistos como resignadores ou redentores, mas, apesar disso, não deixam de considerar seu potencial transformador.Com o cuidado de evitar abordar os JC com uma visão redentora ou resignadora, Correia (2006b), apoiado em Brown (1995), ressalta como grande um desafio para a E Física: levar a cooperação além do prazer do jogo, da aula e da escola.Enfim, Corella (2006), em Cuba, concluiu que os JC não são muito utilizados em seu país por conta do desconhecimento da proposta pelos professores, mas reconhece um acordo no âmbito internacional quanto à importância e ao potencial dos mesmos nas aulas de EF. Recomenda a capacitação de professores de EF em JC para que qualidades como ajuda mútua, solidariedade e cooperação possam ser melhor desenvolvidas nas escolas.
Considerações finaisApesar de esse estudo ter característica bibliográfica, a nossa experiência docente no cotidiano escolar nos dá respaldo para concluir que nenhuma das abordagens aqui relacionadas em torno dos JC é incoerente ou incompatível com a realidade e o cotidiano da escola.Até mesmo as críticas de Santo, Silva e Barbosa (2005) são relevantes, porque nos alertam para não levarmos à escola os JC como uma proposta descontextualizada dos aspectos sociais, políticos e culturais relacionados à nossa sociedade dividida em classes.Quanto à formação de professores, nossa experiência com capacitação, no Rio de Janeiro e Minas Gerais, confirma as considerações de Corella (2006) e Abrão (2003). Em oficinas e cursos que realizamos, muitos professores mostram-se interessados, mas, por outro lado, muitos outros ainda revelam o desconhecimento e a dificuldade de acesso às produções literárias e acadêmicas sobre JC.Como demonstram os trabalhos relatados, há uma diversidade de abordagens para os JC: a saúde, a ecológica, a política, a filosófica, a metodológica, a psicológica, a pedagógica e outras. Há, nisso, um campo vasto para investigação, estudos e aplicações na escola.Embora a mediação do esporte pelos JC seja uma estratégia adequada para estimular a participação dos alunos e a cooperação intra-grupal, não se pode perder de vista a relação de oposição que continua implícita quando se trabalha com duas equipes. Essa estratégia deve ser vista como um processo para alcançar os objetivos de um projeto político-pedagógico da nossa sociedade, o qual pretende transformar o paradigma da competição em um paradigma da cooperação. Logo, a EF escolar deve refletir sobre seus métodos, estratégias e conteúdos adotados nas aulas.Temos de considerar a necessidade de mais estudos e pesquisa sobre JC. A grande parte dos trabalhos aqui relatados dá um enfoque mais psicológico, em torno do indivíduo ou grupo, desconsiderando as correlações entre uma interferência individual e grupal com um contexto social e político mais amplo. O consenso internacional identificado por Corella (2006) precisa ser redimensionado para que os JC não caiam em um discurso acrítico ou ufanista a ponto de merecer críticas apressadas como as de Santo, Silva e Barbosa (2005).Finalmente, não podemos considerar tais críticas como acusações ou desmerecimento da proposta dos JC, mas sim como desafios para novos trabalhos em busca de aprimorar essa proposta; pois, como vimos, a grande parte das experiências com mostram-se positivas.
Aula 4 Os PCNs















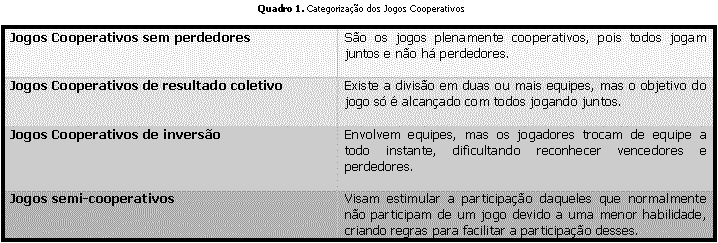
Comentários